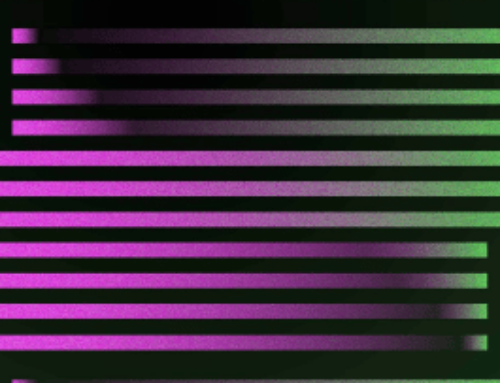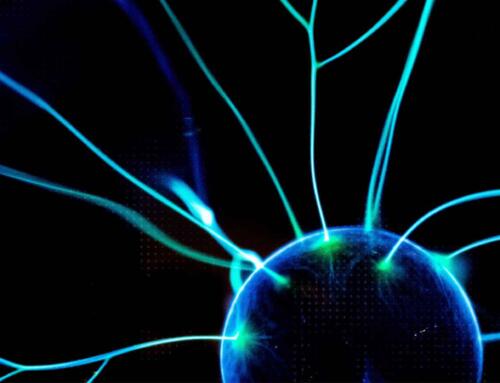American Philosophical Quarterly
Estudos recentes sobre a Epistemologia do Entendimento
Michael Hannon
Universidade de Nottingham
Tradução:
Daniel Doro
Edição e revisão:
Marcelo Cabral
Resumo
O interesse filosófico na natureza, no valor e nas variedades do entendimento humano expandiu consideravelmente nos últimos anos. Esse artigo irá fornecer um panorama das novas pesquisas em epistemologia do entendimento, com um foco particular nas questões a seguir: O que é o entendimento e por que deveríamos nos importar com ele? O entendimento pode ser reduzido ao conhecimento? Ele requer verdade, crença, ou justificação? Pode haver entendimento por sorte? É necessário absorver algum tipo de ‘know-how’? Esse conjunto de perguntas tem ditado a agenda de pesquisa dos estudos sobre entendimento na epistemologia. Como conclusão, será discutido algumas variedades de entendimento, como também serão feitos alguns direcionamentos para pesquisas futuras.
Os seres humanos são criaturas naturalmente investigativas. Como Aristóteles observou: “Todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer”. Mas o conhecimento não é a única realização intelectual[1] que os humanos almejam, e talvez não seja a mais valiosa. Como Albert Einstein certa vez disse: “Qualquer tolo pode saber; o real desafio é entender”.[2]
É amplamente assumido que o entendimento é uma valiosa realização intelectual; todavia, o estado cognitivo do entendimento é pouco compreendido. O que é o entendimento? Por que ele é valioso? E como podemos obtê-lo? Essas perguntas estão na linha de frente dos estudos recentes sobre a epistemologia do entendimento. Nesse artigo, tentarei dar uma ideia do alcance e da profundidade dessas novas pesquisas sobre a natureza, o valor e as variedades do entendimento humano. Também irei avaliar de forma crítica alguns desses estudos.
O Entendimento na Epistemologia
O interesse filosófico no entendimento tem passado por uma expansão nos últimos anos. Na epistemologia, os estudiosos têm tentado explorar a natureza, o valor e as variedades do entendimento (understanding) principalmente comparando-o com outro estado cognitivo, o conhecimento (knowledge). Essa metodologia não surpreende. O conhecimento tem sido o foco da epistemologia moderna, e a linguagem do “saber” / “conhecer”[3] está intimamente relacionada à linguagem do “entendimento.” Por exemplo, “sabe” e “entende” se apresentam na mesma forma linguística: assim como alguém pode saber que, saber como, saber quem, saber o que, saber quando e saber por que, alguém também pode entender que, entender como, entender quem e assim por diante (Kvanvig 2009, p. 96). Além disso, os termos “sabe” e “entende” são, com frequência, intercambiáveis. Por exemplo: “eu sei que dois mais dois é igual a quatro” parece expressar o mesmo pensamento que “eu entendo que dois mais dois é igual a quatro” (Hannon 2019, p. 223). Portanto, saber e entender parecem ser realizações cognitivas intimamente conectadas. De acordo com alguns estudiosos, o contraste entre saber e entender é meramente superficial (ver Brogaard 2005).
Todavia, a linguagem do dia a dia indica algumas importantes diferenças entre saber e entender. Por exemplo, a citação de Einstein acima implica que entender é uma realização cognitiva muito maior do que meramente saber. Duncan Pritchard ecoa essa ideia: “Nós certamente preferiríamos entender do que simplesmente saber” (2010, p. 74). Conhecimento e entendimento com frequência são contrastados, de modo a indicar que o entendimento pode requerer um nível de sofisticação intelectual que não é necessariamente demandado pelo conhecimento. Encontramos suporte adicional a essa ideia ao observarmos outros idiomas. Como Alison Hills (2016, pp. 668-9) relata, muitas línguas fazem uma distinção semelhante entre saber e entender, incluindo o Francês:
Je sais que… Eu sei que …
Je comprends que … Eu entendo que …
Je sais pourquoi… Eu sei por que…
Je comprends pourquoi… Eu entendo por que…
e o Alemão:
Ich weiss dass… Eu sei que…
Ich verstehe dass… Eu entendo que…
Ich weiss, warum… Eu sei por que …
Ich verstehe, warum… Eu entendo por que …
A distinção entre saber e entender também pode ser encontrada em Russo, Hebraico, Dinamarquês e Irlandês, entre outros idiomas (Hills 2016, p. 668).
Esses dados linguísticos dão suporte prima facie à ideia de que saber e entender são estados cognitivos distintos. Provavelmente, não encontraríamos essa distinção em muitas línguas naturais se saber e entender fossem simplesmente intercambiáveis, ou se referissem ao mesmo conceito. Essa evidência linguística não é conclusiva, mas é, ao menos, sugestiva.
A comparação entre o entendimento e o conhecimento levou os filósofos a concentrar suas análises nas questões a seguir: O entendimento é redutível ao conhecimento? O entendimento requer verdade? Pode haver entendimento por sorte? Ele é transmissível pelo testemunho? Ele é transparente, no sentido de que sabemos quando o entendimento foi obtido? Esse conjunto de questões tem guiado amplamente a agenda da pesquisa para o estudo do entendimento na epistemologia. Os filósofos têm buscado aprimorar o nosso entendimento do entendimento comparando-o com o que conhecemos sobre o conhecimento.
Vamos começar com a pergunta: o entendimento pode ser reduzido ao conhecimento? Essa é uma das questões mais urgentes na epistemologia do entendimento, porque a redutibilidade do entendimento ao conhecimento sugeriria que não precisamos de descrições distintas desses bens epistêmicos. Além disso, se o entendimento for simplesmente um tipo de conhecimento, então faria pouco sentido dizer que o entendimento deveria substituir o conhecimento como foco primário da epistemologia (e.g. Zagzebski 2001; Kvanvig 2003; Elgin 2006; Pritchard 2010). Se, no entanto, o entendimento não for redutível ao conhecimento, então isso ameaçaria a justificativa para o foco demasiado no conhecimento que observamos ao longo da história da epistemologia. De fato, “epistemologia” é tipicamente definida como a “teoria do conhecimento”, e a discussão sobre o conhecimento tem dominado o cerne da literatura moderna em epistemologia. Portanto, se o entendimento tem um status especial, ou um valor que o conhecimento não tem, os filósofos podem ser acusados de focar, de forma míope, os seus esforços na análise do conhecimento em detrimento de bens intelectuais mais importantes.
O Entendimento é um Tipo de Conhecimento?
O entendimento, assim como o conhecimento, é uma realização intelectual. Logo, não é surpreendente que, em muitas descrições, o entendimento seja meramente um tipo de conhecimento. Isso tem sido a visão dominante na filosofia da ciência, e também popular na epistemologia. Aristóteles talvez seja o defensor mais proeminente dessa visão (Segundos Analíticos 71b9-11). Ele sustentou que o entendimento é simplesmente o conhecimento de causas. Mais especificamente, entender por que X é o caso equivale a saber por que X é o caso; e isso, em contrapartida equivale a saber que X é por causa de Y. Por exemplo, entender por que os meus olhos estão lacrimejando equivale a saber por que os meus olhos estão lacrimejando, e isso é praticamente idêntico a saber que meus olhos estão lacrimejando porque (digamos) eu estou cortando cebolas.
Na filosofia da ciência, a visão de que o entendimento é apenas um tipo de conhecimento já foi defendida por Peter Achinstein (1983), Wesley Salmon (1984), James Woodward (2003), Peter Lipton (2004, 2009), Kareem Khalifa (2011, 2012, 2017), and Mark Newman (2017). Na epistemologia, essa visão foi adotada por Berit Brogaard (2005), Stephen Grimm (2006, 2012, 2014), John Greco (2014), Christoph Kelp (2014, 2015, 2017), Paulina Sliwa (2015), and Amber Riaz (2015), entre outros. Para simplificar, usarei o termo “reducionismo” para a visão de que o entendimento é uma espécie de conhecimento.
Outros autores têm se oposto à redução do entendimento ao conhecimento. De acordo com estes “anti-reducionistas”, entender requer mais do que saber. Entre os defensores dessa visão estão Zagzebski (2001), Jonathan Kvanvig (2003), Catherine Elgin (2004, 2007, 2009, 2017), Duncan Pritchard (2009, 2010), Alison Hills (2016), Wayne Riggs (2009), Christoph Baumberger (2011), Mikael Janvid (2012), Kevin Morris (2012), Yasha Rohwer (2014), Henk de Regt (2015, 2017), Sabine Ammon (2016), Insa Lawler (2016), Daniel Wilkenfeld (2017), and Finnur Dellsén (2017). Esses antirreducionistas negam a redutibilidade do conhecimento em vários aspectos, os quais eu irei explorar em breve. Primeiro, vamos considerar as razões a favor do reducionismo.
Por que pensar que o entendimento é apenas um tipo de conhecimento? De acordo com vários relatos, é porque as condições para o entendimento, em muito, se parecem com as conhecidas condições do conhecimento: crença, justificação e verdade (Gettier 1963). Como Baumberger e outros observam, o entendimento parece requerer que indivíduos “possuam uma representação do que é entendido”, e é plausível que “a representação precise ser de alguma forma aceita pelo agente” (Baumberger et al. 2016, p. 6). Assim, deparamos com uma condição paralela à condição da crença para o conhecimento. Além disso, parece natural dizer que falta entendimento a alguém que é incapaz de “fornecer boas razões para a representação subjacente ao seu entendimento” (Baumberger et al. 2017, p. 6). Isso está em paralelo com a condição de justificação para o conhecimento. Finalmente, um indivíduo aparenta não dispor de real entendimento se a sua representação não está de acordo com os fatos: alguém que representa o mundo erroneamente não consegue entendê-lo. Assim, o entendimento parece requerer a condição da verdade (Baumberger et al. 2017, p. 6).
Crença e entendimento
É amplamente aceito que só se pode saber o que se acredita. Por exemplo, se eu não acredito que tem café na minha xícara, então eu não posso saber que tem café na minha xícara. Acaso isso também se aplica ao entendimento?
Os reducionistas devem pensar que sim.[4] Todavia, Wilkenfeld (2017) apresenta um caso em que um agente parece entender por que p e ainda assim não crê totalmente na explicação de por que p. Aqui está o caso:
Challenger: Richard é um cientista bem estabelecido e habilidoso, com a tarefa de investigar por que o ônibus espacial Challenger explodiu. Seus instintos investigativos são excelentes e ele imediatamente suspeita da capacidade dos anéis de borracha O-Rings de operar em temperaturas baixas. De fato, a razão pela qual o Challenger explodiu foi uma falha no O-Ring. Infelizmente, antes de vir a público, ele é sujeito a uma tentativa deliberada de acobertar o caso, lançando suspeita sobre se os O-Rings falharam nesse caso. Arbitrariamente, muitas evidências de que realmente não houve falha no O-Ring podem ser apresentadas, de modo que Richard perca a confiança na sua crença de que o Challenger explodiu por causa da falha no O-Ring. Agora ele está apenas 30% confiante de que o Challenger explodiu por causa da falha no O-Ring. Entretanto, Richard ainda possui um modelo detalhado de como a falha no O-Ring teria causado a explosão. Além disso, quando ele imagina a explosão, ela é sempre acompanhada da suspeita remota de que pode ter havido falha nos O-Rings. Richard é, de fato, o expert proeminente do mundo no caso da explosão do Challenger – ele só não consegue crer em suas próprias conclusões.
De acordo com Wilkenfeld, parece correto afirmar que Richard entende por que o ônibus espacial Challenger explodiu, mesmo que ele não acredite na explicação correta. Wilkenfeld conclui que, diferentemente do conhecimento, entendimento não requer crença (completa).
Mas o argumento de Wilkenfeld pode ser questionado de ao menos dois modos. Primeiro, podemos questionar a suposta intuição de que Richard entende por que o Challenger explodiu. Por exemplo, se eu simplesmente perguntasse a Richard por que ele acha que o Challenger explodiu, ele ou diria que não entende o porquê o ônibus espacial explodiu ou ele diria uma explicação incorreta como causa da explosão. Afinal de contas, Richard é apenas 30% confiante que a falha no O-Rings foi a causa do desastre. Assim, parece estranho dizer que Richard entende por que o Challenger explodiu, visto que ele mesmo não identificaria a falha no O-Ring como a causa.
Em segundo, o argumento de Wilkenfeld envolve um truque de mágica. De acordo com a visão tradicional do conhecimento, a crença é necessária no sentido de que uma pessoa não pode saber que p sem crer que p. Assim, é impossível saber que o Challenger explodiu sem acreditar que ele explodiu. Agora, considere o caso análogo sobre o entendimento: para entender que (ou por que) p, é necessário crer que p. Isso parece não ser controverso. Se Richard não acreditasse que o Challenger explodiu, então ele não entenderia que (ou por que) ele explodiu. Nesse sentido, uma pessoa não pode ter o entendimento sem ter a crença associada.
Isso ilustra que o entendimento requer crença da mesma forma que o conhecimento requer crença: assim como não é possível saber que p sem crer que p, também não é possível entender que (ou por que) p sem crer que p.
Pode haver outros tipos de entendimento que não requerem crença. Por exemplo, eu posso entender a teoria do flogisto, ou astrologia, ou o criacionismo científico sem crer em nenhuma dessas teorias. De modo semelhante, um criacionista científico devoto pode entender a teoria da evolução perfeitamente bem, sem acreditar que ela descreve a origem da humanidade. Partindo do pressuposto que a evolução é verdade, não diríamos que o criacionista entende por que a humanidade existe ou por que ela tem as propriedades que tem (Wilkenfeld 2017, p. 319). Todavia, esses são casos em que aquele que entende a teoria ainda crê que a teoria diz isso ou aquilo. É preciso admitir que alguém pode entender o conteúdo da teoria sem acreditar nela; nesses casos, entendemos o conteúdo da teoria sem acreditar que a teoria representa o mundo com precisão.
Seguindo outra linha de argumento, Elgin (2004) e Dellsén (2017) dizem que o entendimento não requer crença, mas sim aceitação. Na distinção de L. J. Cohen (1992), alguém acredita que p apenas no caso em que este alguém está naturalmente predisposto a sentir que é verdade que p (e mentira que não-p) quando está considerando as questões levantadas por p. Em contraste, alguém aceita que p somente se alguém trata como dado que p; ou seja, apenas quando alguém “adota uma política de… incluir [p] entre as suas premissas para decidir o que fazer ou pensar em um determinado contexto” (Cohen 1992, p. 4.). De acordo com Dellsén (2017, p. 248): “entender algo pode envolver meramente tratar algumas proposições ou teorias como premissas no contexto de explicar algo, ao invés de estar disposto a sentir que as proposições ou teorias são verdade”. Ele fornece o seguinte caso para ilustrar esse ponto:
Teoria das cordas: Carrie é uma física teórica em um possível mundo próximo (talvez esse mesmo) no qual a teoria das cordas é verdade. Carrie construiu sua carreira em torno do uso da teoria de cordas para explicar vários fenômenos conhecidos no mundo natural, e se tornou uma das principais contribuintes do mundo para essa área graças a seu incomparável insight sobre a teoria e suas aplicações. Além disso, ela adotou a política de tratar a teoria das cordas como premissa em seus empreendimentos científicos – utilizando-a em explicações de vários fenômenos naturais – e, portanto, ela aceita a teoria das cordas para fins de explicação. Todavia, como muitas outras físicas, Carrie tem reservas metodológicas significativas sobre a teoria das cordas na sua forma atual e, portanto, não está disposta a aceitar a teoria das cordas nem como aproximadamente verdadeira. Em outras palavras, Carrie acredita que a teoria das cordas não está nem mesmo perto de ser verdadeira (Dellsén 2017, p. 249).
De acordo com Dellsén, Carrie entende a estrutura fundamental de seu mundo que a teoria das cordas se propõe a descrever. Logo, (alegamos) temos um caso de entendimento sem crença.
No entanto, isso não um caso óbvio de entendimento sem a crença relevante. O que Carrie entende é “a estrutura fundamental de seu mundo que a teoria de cordas se propõe a descrever” (Dellsén 2017, p. 249). Mas o que ela não consegue acreditar é algo diferente, a saber, ela não crê que a teoria das cordas explica a estrutura fundamental de seu mundo. O objeto do entendimento mudou, portanto o contraexemplo não consegue estabelecer o seu ponto. Embora esse seja um caso de entendimento sem crença, não é um caso claro de entender p sem acreditar em p. De fato, é razoável dizer que Carrie entende a estrutura fundamental de seu mundo que a teoria das cordas se propõe a descrever, mas ela não acredita na estrutura fundamental de seu mundo que a teoria das cordas se propõe a descrever.
Justificação e Entendimento
Comumente é assumido que crenças que são conhecimento precisam ser alcançadas da maneira certa; por exemplo, um palpite correto não basta para o conhecimento, nem tampouco uma crença baseada em evidências refutadas. Nesses casos, a pessoa não possui o tipo correto de justificação para o conhecimento. Será que o entendimento, assim como o conhecimento, requer justificação?
Hills (2016) argumenta que o entendimento difere do conhecimento porque apenas o primeiro é compatível com anuladores [defeaters] que minam sua justificação. Considere o caso a seguir:
Napoleão: Suponha que você leu um livro de história com muitos detalhes sobre a carreira de Napoleão – que ele era bem-organizado, taticamente astuto e implacável. Baseado nisso, você conclui que ele foi um grande líder militar. Você está completamente certo e você é capaz de explicar por que ele foi um grande líder. Você também é capaz de explicar por que figuras semelhantes (e.g. Wellington e Marlborough) também foram comandantes muito bons. Mas agora o seu professor de história, que você considera extremamente confiável, lhe diz que Napoleão não foi um grande líder. Seu professor não está baseando esse julgamento em outra informação ou em uma interpretação diferente sobre o que é necessário para ser um grande general; ele simplesmente, de modo irracional, não gosta de Napoleão. Você não tem ideia sobre isso; mas, mesmo assim, você ignora o seu professor e continua a sustentar sua conclusão (Hills 2016, p. 672).
Nesse caso, Hills diz que você entende por que Napoleão foi um grande general. Suas crenças estão corretas e você aparenta ter as habilidades necessárias para o entendimento; portanto, você entende por que Napoleão foi um grande general. Entretanto, parece incorreto dizer que você sabe por que ele foi um grande general — pelo menos de acordo com a explicação padrão de conhecimento. Você tem uma evidência de que a sua conclusão é falsa, o que descredita a sua justificação. Embora você escolha ignorar a evidência, mesmo assim ela derruba a sua justificativa porque é baseada em um testemunho aparentemente confiável. Portanto, você não pode saber que (ou por que) Napoleão foi um grande general, ainda que você entenda por que ele foi. Isso mostra, teoricamente, que o entendimento não requer justificação, ou pelo menos no mesmo nível que o conhecimento.
Hills assume que iremos concordar com ela que esse é um caso de entendimento sem conhecimento (ou justificativa). Ela escreve: “é natural dizer que você entende por que Napoleão foi um grande general nesses exemplos” e que “você claramente não sabe… por que Napoleão foi um grande general” (2016, p. 671). Me pergunto se outros irão se sentir compelidos pelo julgamento intuitivo de Hill. Da minha parte, eu não sinto. De fato, parece natural dizer que você jamais poderia entender por que Napoleão foi um grande general se você não sabe que (ou por que) ele foi. Como Hill mesmo reconhece, qualquer frase no formato “Você entende por que p, mas você não sabe por que p” soa errada (2016, p. 677). Para evitar essa objeção, ela diz que as nossas intuições sobre esse caso precisam ser descartadas. No entanto, podemos, em vez disso, descartar as intuições que levam Hills a afirmar que o entendimento é possível na ausência de conhecimento. Talvez faça mais sentido dizer que você pensa que entende por que Napoleão foi um grande general, enquanto o entendimento genuíno não é compatível com negar a evidência contrária de uma fonte “extremamente confiável” de informação relevante. Em última instância, é questionável quanta atenção devemos dar a essas intuições. De qualquer forma, o argumento de Hill é importante porque ilustra que o entendimento pode não ser redutível ao conhecimento, e, nesse caso, a visão tradicional do entendimento na filosofia da ciência está equivocada.
Finnur Dellsén (2017) também procura colocar uma separação entre entendimento e justificação utilizando experimentos mentais. Ele apresenta o caso hipotético a seguir em que um agente, aparentemente, absorve as relações explanatórias necessárias para entender, mas não consegue ter a justificação:
Geometria: Alice é uma estudante do ensino básico com dificuldades, que ainda precisa encontrar o seu real chamado acadêmico. Havendo falhado miseravelmente em todas as tarefas escolares esse ano, Alice agora encontra a geometria pela primeira vez em sua vida. Sem ter consciência disto, Alice possui um talento nato para geometria e, portanto (de forma até impressionante), ela consegue derivar o teorema de Pitágoras usando uma versão da demonstração original de Pitágoras sem consultar qualquer professor ou livro-texto. Entretanto, do ponto de vista de Alice, a sua demonstração do teorema de Pitágoras não é diferente de suas outras tentativas de entender novas matérias na escola esse ano (das quais todas falharam). Então, Alice tem boas razões para acreditar que essa tentativa de entender uma nova matéria na escola também tenha falhado, assim como todas as suas tentativas anteriores esse ano e, logo, ela não está justificada em crer que o teorema de Pitágoras é verdadeiro (ou que a demonstração está correta) (Dellsén 2017, p. 242).
De acordo com Dellsén, “Alice claramente entende o teorema de Pitágoras” (2017, p. 243) mesmo sem ter a justificação para tanto.
Podemos questionar essa afirmativa por várias razões. Primeiro, podemos simplesmente duvidar que Alice acredita que derivou o teorema de Pitágoras. Afinal, ela tem consciência de que a sua demonstração “não é diferente de suas outras tentativas de entender um novo assunto de uma nova matéria na escola esse ano (das quais todas falharam)”. Por que, então, ela acreditaria que a sua tentativa foi bem-sucedida? Falta a Alice o entendimento simplesmente porque lhe falta a crença relevante. Em resposta, Dellsén diz que podemos “supor que Alice forma essa crença irracionalmente, mesmo sabendo de seu histórico terrível” (2017, p. 242n8). Mas se a sua crença é tão irracional, então podemos começar a questionar se ela realmente tem entendimento (em vez de mera crença verdadeira por sorte). Em outro texto, Dellsén diz “poderíamos facilmente estipular que Alice, por qualquer razão que seja, teve sorte em sua tentativa de provar o teorema de Pitágoras de modo que ela não consegue construir demonstrações semelhantes na geometria em outras ocasiões” (2017, p. 243n10). Se isso for verdade, podemos duvidar que Alice exibe entendimento em vez de uma crença verdadeira por sorte.
Deixando isso de lado, também podemos argumentar que Alice possui sim a justificativa relevante. Alice é capaz de derivar o teorema de Pitágoras usando uma versão da demonstração original de Pitágoras porque ela compreende as relações matemáticas corretas entre o teorema e os fatos geométricos. Se ela não compreendesse essas relações, ela não teria o entendimento. Mas o próprio fato de ela compreender essas relações é o que justifica a sua crença sobre a prova que ela deriva. É justamente o fato de ela compreender essas relações — não o fato de que ela compreende que as compreende — que justifica a sua crença.[5] Embora a percepção de Alice sobre o seu histórico ruim possa mitigar a sua justificativa para acreditar que ela compreende as relações corretas, isso não necessariamente derruba a sua justificativa para entender o teorema de Pitágoras.
Isso não mostra de forma conclusiva que o entendimento requer justificação, ou que o entendimento pode ser reduzido ao conhecimento.[6] Contudo, procurei ilustrar que certos argumentos comuns contra a necessidade de justificação para o entendimento não acertam o alvo.
Entendimento por sorte
É comum a visão de que o conhecimento é incompatível com certos tipos de sorte. Por exemplo, se você vier a crer que são 2 horas da tarde baseado em um relógio que (sem que você saiba) parou há 12 horas, então você pode realmente e com justificativa acreditar que são 2 horas da tarde mesmo que você não saiba disso (Russell 1948; Gettier 1963). Sua crença é simplesmente muito fortuita para ser classificada como conhecimento.
Será que o entendimento também é incompatível com a sorte? Muitos epistemólogos procuraram distinguir o conhecer do entender argumentando que o entendimento é compatível com certas formas de sorte que, por sua vez, mitigam o conhecimento. Particularmente, com frequência se diz que o entendimento é compatível com a “sorte ambiental”. A sorte ambiental ocorre quando uma crença genuína é adquirida em um ambiente epistemicamente desfavorável, em que alguém poderia facilmente ter chegado a crenças falsas.[7] Considere o cenário a seguir:
Estado Orwelliano. Winston vive em um estado Orwelliano no qual o governo tenta falsificar o passado. Winston está em uma sala cheia de livros de história cuidadosamente falsificados, mas por sorte ele escolhe o único livro correto que não foi destruído. Ao ler o livro, ele passa a crer em muitos de seus postulados verdadeiros sobre o passado. Para focarmos em um postulado específico, suponha que Winston passe a crer que os Comanches dominaram as planícies do sul da América do Norte durante o século dezoito por causa de suas habilidades superiores de montaria.[8]
Suponha que Winston compreenda essa explicação, ela faz sentido para ele e assim por diante. Será que ele agora entende por que os Comanches dominaram as planícies do sul durante esse período? De acordo com Kvanvig (2003), Pritchard (2009) e Hills (2016), parece que Winston possui sim o entendimento.[9] Afinal, Winston agora pode responder corretamente uma enorme gama de perguntas sobre o domínio Comanche, ele compreende as conexões relevantes e assim por diante.
Mas será que Winston também sabe por que os Comanches dominaram as planícies do sul? Muitos estudiosos ficam tentados a dizer que ele não sabe. A crença de Winston poderia facilmente ter sido equivocada, e uma das principais lições da literatura sobre a sorte epistêmica é que o conhecimento requer uma conexão mais segura com a verdade: ele requer uma conexão não acidental entre a mente e o mundo.
Hills (2016, p. 672) descreve casos semelhantes de sorte epistêmica:
Livros-texto imprecisos: Sua turma de história toda recebeu livros-texto muito imprecisos, menos você. Você lê em seu livro-texto alguns detalhes sobre a carreira de Napoleão: que ele era bem-organizado, taticamente astuto e implacável. Com base nisso, você conclui que ele foi um grande líder militar. Você está completamente certa e é capaz de explicar por que ele foi um grande líder. Você também é capaz de explicar por que outras figuras semelhantes (Wellington e Marlborough, por exemplo) também foram ótimos comandantes.
De acordo com Hills, esse exemplo mostra que você entende sim por que Napoleão foi um líder bem-sucedido, embora você não saiba esse fato. Kvanvig (2003, pp. 197-8) e Pritchard (2010, p. 70) descrevem exemplos semelhantes que são projetados para mostrar que o conhecimento não é necessário para o entendimento.
Embora esses exemplos sejam apenas ficções filosóficas, eles ilustram um ponto importante. Nossos ambientes de informação estão cada vez mais poluídos com fake news, mentirosos e faladores de asneiras. Vivemos no que podemos chamar de ambientes epistemicamente hostis. Consequentemente, é importante determinar a relação entre conhecimento, entendimento e sorte ambiental. Se pessoas como Kvanvig, Pritchard e Hills estão corretas, então os ambientes epistemicamente hostis podem ameaçar o nosso conhecimento sem ameaçar o nosso entendimento. Essas notícias são até boas. Embora possa se tornar mais difícil saber as coisas em nossa era da pós-verdade de desinformação, podemos ainda assim alcançar entendimento, contanto que tomemos fontes precisas de informação.
Entretanto, não está claro se podemos distinguir o saber do entender apelando para a sorte epistêmica. Particularmente, a afirmação de que o conhecimento (mas não o entendimento) é incompatível com a sorte ambiental é altamente questionável. Nossas intuições a respeito de casos com a mesma estrutura são frágeis, como ilustrado por Hawthorne (2003), Gendler e Hawthorne (2005), e Sliwa (2015). Podemos facilmente construir casos de sorte ambiental onde é intuitivo atribuir conhecimento. Por exemplo, Hawthorne (2003, p. 69-9) descreve um cenário em que seis crianças recebem livros e apenas um deles fornece informação precisa sobre a capital da Áustria. Quando perguntado “Qual das crianças sabe a capital da Áustria?”, um observador que presenciou a sequência de eventos irá responder selecionando a criança cujo livro dizia “Viena” — mesmo que aquela criança tenha recebido a resposta correta por sorte. Isso ilustra que o conhecimento, assim como o entendimento, é alcançável em ambientes epistemicamente hostis, contanto que a fonte de informação seja boa.
Além disso, Grimm (2006) apresenta alguns casos contra a afirmação de que o entendimento pode se dar por sorte, e em seguida argumenta que casos em que o entendimento não é mitigado pela sorte também são casos em que a sorte epistêmica não mitiga o conhecimento. Portanto, ele fornece um caso intuitivo de que o conhecimento e o entendimento parecem “oscilar juntos”, pelo menos quando os detalhes desses casos são explicitados adequadamente.[10]
Além dos argumentos intuitivos apresentados, existem evidências empíricas de que o entendimento e o conhecimento são ambos compatíveis com a sorte ambiental. Wilkenfeld, Plunkett e Lombrozo (2018) testaram experimentalmente uma variedade de casos diferentes envolvendo sorte epistêmica e não encontraram qualquer evidência de que os julgamentos concernentes ao conhecimento e ao entendimento divergem como resultado de uma etiologia da crença.[11] Eles dizem: “as atribuições de conhecimento e as atribuições de entendimento envolvem funções comparáveis (e mínimas) para a sorte epistêmica” (Wilkenfeld et al. 2018, p. 24). Isso levanta dúvidas sobre um pressuposto crucial feito pelos estudiosos que afirmam que o conhecimento é incompatível com a sorte ambiental.
Colaço et al. (2014) fornece suporte adicional à visão de que o conhecimento e o entendimento são igualmente insensíveis à sorte epistêmica. Eles projetaram um estudo para determinar se membros do público em geral negariam conhecimento ao protagonista no caso dos celeiros falsos de sorte ambiental (ver Goldman 1976). Ao contrário da tradição filosófica, Colaço e seus colegas descobriram que os participantes estão dispostos a atribuir conhecimento no caso dos celeiros falsos, ruindo, portanto, a pressuposição de que a sorte ambiental é incompatível com o conhecimento. Da mesma maneira, muitos filósofos afirmaram que o cenário dos celeiros falsos é compatível com o conhecimento; e.g., Milikan (1984), Brogaard (2005), Grimm (2006, p. 529), Lycan (2006, p. 158), and Turri (2011, p. 9). Assim, parece que a intuição dos celeiros falsos não é “claramente correta o suficiente para ser utilizada como premissa de um bom argumento” (DeRose 2009, p. 49).
Isso levanta dúvidas sobre o caso putativo da imunidade do entendimento à sorte epistêmica. Embora um dos jeitos mais comuns de argumentar que o entendimento é diferente do conhecimento seja afirmar que o entendimento é imune ao(s) tipo(s) de sorte epistêmica que mitiga o conhecimento, parece que as pessoas não diferenciam entre saber e entender baseadas na sorte.
Verdade e Entendimento
Qual é a relação entre o entendimento e os fatos? Essa é uma das questões debatidas com mais fervor na epistemologia do entendimento. É amplamente aceito que o conhecimento é “factivo”, no sentido de uma crença corresponder a conhecimento apenas se a crença for verdadeira. Afinal, você não pode saber que o Titanic afundou em 1912 se ele não afundou em 1912. Mas a relação entre o entendimento e a verdade é mais complicada.
De qualquer modo, parece claro que o entendimento precisa de alguma forma responder aos fatos. Você não pode entender como o Titanic naufragou se o que você crê sobre como ele naufragar for falso. Por outro lado, uma concepção estritamente factiva do entendimento pode ser incapaz de fazer jus às contribuições cognitivas da ciência. Como Elgin (2015) e de Regt (2017) argumentam, os cientistas frequentemente recorrem a modelos, idealizações e experimentos mentais que são conhecidamente inverídicos. Por exemplo, os cientistas procuram entender o comportamento de gases reais referenciando aos chamados gases ideais, mesmo que não haja tal gás. Elgin chama isso de “falsidades oportunas” [felicitous falsehoods], e afirma que elas são frequentemente essenciais para fomentar o entendimento.[12]
Optando por um caminho intermediário, Kvanvig (2003) sustenta que o entendimento é compatível com certas crenças periféricas que são falsas, enquanto as crenças que são centrais ao entendimento precisam ser verdadeiras. Sob esse ponto de vista, crenças falsas serão sempre deletérias ao entendimento: nossa situação cognitiva seria aprimorada ao removermos falsidades do nosso conjunto de crenças. Essa é a visão “quase-factiva” do entendimento.
Parece plausível que as explicações e teorias precisem ser ao menos aproximadamente verdadeiras para fornecer entendimento. Elgin (2017), entretanto, argumenta que os modelos científicos envolvendo idealizações altamente irrealistas podem aumentar o entendimento. Além disso, parece possível usar ficções e cenários contrafactuais para avançar o entendimento. Considere o relato genealógico de Thomas Hobbes da soberania política. Hobbes imagina um “estado de natureza” em que não há governo, não há leis, não há civilização, mas apenas uma guerra de “todos contra todos”, em que a vida era “desagradável, brutal e curta”. Mesmo sendo uma fantasia filosófica, ela é usada para lançar luz sobre a legitimidade da autoridade política. Poderíamos listar pontos semelhantes entre a genealogia da justiça de Hume e o experimento mental de Rawls envolvendo seres humanos na “posição original” atrás de um véu de ignorância (ver Elgin 2017, p. 29). Esses teóricos não tinham a ilusão de que seus relatos eram descrições precisas da história humana. Mesmo assim, a intenção dessas teorias é de gerar entendimento genuíno.
Isso ilustra que mesmo as falsidades são às vezes compatíveis com o entendimento. Como Elgin escreve:
Um elemento central na visão de um secundarista sobre a descendência humana pode ser que os humanos descendem dos macacos, embora, em um relato mais sofisticado, humanos e os grandes símios descendem de um ancestral comum hominídeo que não era, estritamente falando, um macaco. Mesmo assim, a visão infantil demonstra algum entendimento e é certamente melhor do que pensar que humanos e macacos não têm parentesco algum. Da mesma maneira, mesmo Copérnico pensando que a Terra orbitava ao redor do sol em trajetória circular (e não em uma elipse), sua teoria constitui um avanço importante no entendimento do movimento dos planetas em comparação às teorias Ptolemaicas (2007, pp. 37-8).
Isso parece contradizer a afirmação de Kvanvig de que não podemos entender um assunto a não ser que todas as proposições centrais em um conjunto compreensivo de informações seja verdade. Em alguns casos, as divergências em relação a verdade podem ser grandes sem mitigar o entendimento. De fato, Elgin diz que as divergências em relação a verdade são frequentemente essenciais para avançar o entendimento.
Parece claro que as falsidades podem produzir entendimento. Elgin (2017), Strevens (2017), de Regt e Gijsbers (2017) e de Regt (2017) argumentam que divergências em relação a verdade frequentemente geram entendimento na ciência. Voltando ao caso da criança que acredita que os humanos descendem dos macacos, Elgin escreve:
o padrão exibido nesse caso é endêmico à educação científica. Tipicamente, nós começamos com caracterizações brutas que nos orientam propriamente em direção ao fenômeno, e, então, refinamos as caracterizações à medida que o nosso entendimento da ciência avança. Pense na trajetória da física folclórica dos antigos, passando pela mecânica Newtoniana até chegar na relatividade e na mecânica quântica (2009, p. 325).
Em uma linha semelhante, Strevens diz: “muitos modelos explicativos contêm idealizações, ou seja, falsificações deliberadas que são em geral consideradas inofensivas e até mesmo ajudam seus usuários a entenderem por que certos fenômenos ocorrem” (2017, p. 37). Até as teorias que são totalmente falsas podem ser usadas para entender algo. Logo, falsidades deliberadas claramente têm um papel em ajudar cientistas a entender melhor o mundo.
Parece plausível que falsidades oportunas podem ser rotas eficientes para o entendimento. Um modelo simplificado pode até gerar um entendimento melhor do que um modelo explicativo que não contém falsidades. Mas essa ideia é perfeitamente compatível com a visão factiva do entendimento. Dizer que falsidades oportunas podem gerar entendimento é uma afirmação sobre a rota para o entendimento; não é uma afirmação sobre o que é entendido (i.e., o objeto do entendimento). Uma teoria falsa pode produzir entendimento genuíno, mas o fenômeno que é entendido (ou as predições que alguém tenta fazer) ainda precisam ser verdadeiras — ou pelo menos aproximadamente verdadeiras. Por exemplo, a lei do gás ideal representa as moléculas do gás como esferas elásticas perfeitas que ocupam espaço negligenciável e não apresentam atração mútua. Nenhum gás assim existe, mas essa idealização é útil para explicação científica e predições. Ela fornece predições precisas sobre o comportamento dos sistemas-alvo em certas condições (Mizrahi 2012, p. 242). Mas os cientistas que trabalham com a lei de um gás ideal ou com outras idealizações não necessariamente possuem crenças falsas como resultado. A ideia subjacente é que as idealizações podem ser um método eficaz de obter verdades mais profundas, ou fazer predições verdadeiras.
Assim, a eficácia dos modelos falsos ou idealizações não constitui objeção à visão factiva do entendimento. Como Kelp (2017) destaca: “simplesmente não é parte da visão [factiva] que uma proposição ou teoria pode contribuir para o nosso entendimento dos vários fenômenos científicos apenas se for sabidamente literalmente verdadeira”. Fidelidade à verdade não implica que as explicações que empregam idealizações são epistemicamente inaceitáveis.
Podemos também conceder que teorias falsas podem ser entendidas. Nesse sentido bem trivial o entendimento é compatível com falsidades. Mas teorias falsas são elas mesmas compostas de verdades, assim como mundos ficcionais estão repletos de fatos. É um fato que Hamlet era o Príncipe da Dinamarca na peça de Shakespeare, assim como é um fato que os Geminianos e Librianos são um excelente par romântico de acordo com a astrologia. Logo, o entendimento de teorias falsas ainda requer um comprometimento com a verdade. Para entender uma teoria falsa, precisamos entender o que é verdadeiro sob a perspectiva da teoria.
Será que os factivistas precisam afirmar que a ciência é cognitivamente deficiente enquanto depende de leis, modelos e idealizações que divergem da verdade? É um erro atrelar os defensores da factividade a essa visão (embora Elgin 2004, p. 113, a atribua a eles). Dizer que a verdade é imprescindível para o entendimento não é inferir que a nossa melhor ciência “é na verdade intelectualmente desonesta” (Elgin 2004, p. 113). Factivistas não precisam considerar falsidades oportunas como defeitos. Ao contrário, eles podem reconhecer que as falsidades oportunas são importantes para, e de fato constitutivas do, entendimento fornecido pela ciência. Por exemplo, as falsidades oportunas podem nos permitir alcançar mais entendimento em casos em que a verdade – imensamente mais complicada – impediria o entendimento. O ponto, entretanto, é que essas falsidades são preferíveis à verdade devido às nossas limitações cognitivas.
Em outras palavras, os exemplos empregados pelos não-factivistas mostram que as falsidades oportunas são instrumentalmente valiosas.[13] Especificamente, elas são instrumentalmente valiosas para criaturas cognitivamente limitadas como nós. É por causa das nossas limitações cognitivas que, às vezes, nos encontramos em uma melhor posição epistêmica com o uso de modelos simplificados, idealizações e aproximações. Essas simplificações estarão sempre presentes e jamais poderão ser eliminadas para o sucesso da ciência e, portanto, não são defeitos. De fato, elas podem ser necessárias em termos práticos. Mas de um ponto de vista puramente epistêmico, quando descontamos nossas deficiências cognitivas, o factivista pode estar correto que o entendimento do nosso mundo seria aprimorado se contivesse apenas verdades. Nosso dilema é que, de uma perspectiva de investigadores não ideais, a demanda por nada além da verdade pode obstruir nossos objetivos epistêmicos.
______________________
[1] A expressão original é ‘intellectual achievement’, que denota a noção de que atos cognitivos ou atividades epistêmicas são um certo tipo performance que, quando bem sucedida, alcança a ‘realização’ (achievement), que também poderia ser traduzido por ‘sucesso intelectual’. (N. do E.)
[2] A citação de Aristóteles é da frase introdutória do livro Metafísica. A citação de Einstein pode ser encontrada em Christian (1990, p. 207).
[3] No original, “to know”, que em português pode ser traduzido tanto por “saber” como por “conhecer”. Neste artigo, ambas traduções serão utilizadas (N. do E.)
[4] Até mesmo alguns antirreducionistas afirmam que o entendimento requer crença (e.g. Kvanvig 2003; Hills 2016; Pritchard 2009).
[5] Kvanvig (2003, pp. 193-202) defende esse ponto.
[6] Dito isso, diversos antirreducionistas também alegam que o entendimento requer justificação, e.g., Kvanvig (2003, p. 202), Elgin (2009, p. 323) e Pritchard (2009, p. 33).
[7] Esse tipo de sorte é frequentemente distinguido da “sorte interveniente” (ou “sorte de Gettier”) em que uma pessoa possui crenças genuínas apenas por causa de uma intervenção fortuita “entre” os fatos e as suas habilidades cognitivas (ver Pritchard 2010, p. 36). Zagzebski (2001), Kvanvig (2003), e Hills (2016) afirmam que o entendimento (mas não o conhecimento) é compatível com ambos os tipos de sorte. Em contraste, Pritchard argumenta que o entendimento só é compatível com a sorte ambiental. Deixarei a sorte interveniente de lado, pois as intuições que regem esse debate são ainda mais controversas do que as intuições sobre a sorte ambiental. O ponto é reconhecido tanto pelos proponentes (Hills 2016, p. 672) como pelos críticos (Pritchard 2010) sobre a visão de que o entendimento é compatível com a sorte interveniente.
[8] Esse exemplo vem de Grimm (2014).
[9] Zagzebski (2001), Morris (2012), Rohwer (2014) e Riaz (2015) também adotaram essa linha de argumento.
[10] Broogard (2005), Khalifa (2013a) e Greco (2014) também argumentam que o entendimento é incompatível com o mesmo tipo de sorte epistêmica que o conhecimento. Em defesa do entendimento por sorte, Morris (2012) afirma que as intuições que se opõem ao entendimento por sorte podem ser explicadas. No entanto, Sliwa (2015, pp. 60-61) argumenta que frases no formato “Eu entendo por que x, mas não sei por que x” são inapropriadas e não existe uma maneira obvia de explicar como são inapropriadas apelando a considerações pragmáticas.
[11] Eis um resumo de um de seus experimentos:
Participantes foram aleatoriamente selecionados para ler uma de quatro vinhetas, todas variações do caso de Becky na oficina do ferreiro de Grimm (2006). Em cada vinheta, Becky vê John, um ferreiro, acertar uma castanha com um martelo e vê a castanha estourar. Sem o conhecimento de Becky, a bigorna está quente o suficiente para fazer a castanhas estourar e John está brincando de cronometrar os estouros baseados no tempo que levaria para o calor da bigorna estourar as castanhas. Em todas as vinhetas, Becky forma a sua crença de que a castanha estourou porque foi acertada pelo martelo… Na condição normal de crença, o que Becky acredita é verdade. John geralmente acerta a castanha logo antes que ela estoure por causa do calor e ele o faz enquanto Becky observa. Na condição falsa de crença, John cronometra suas marteladas para acertar depois que a castanha estoure por causa do calor e ele o faz enquanto Becky observa. Como esperado, a crença de Becky de que a castanha estourou por causa do martelo é falsa. A condição do ambiente fortuito segue o exemplo do ferreiro de Grimm de perto: John geralmente acerta cada castanha depois que ela explode por causa do calor. Mas, na única ocasião em que Becky está observando, John calcula errado e o martelo, de fato, faz a castanha estourar. Logo, a crença de Becky está correta, mas fortuita já que ela formaria uma falsa crença baseada na evidência idêntica se ela tivesse chegado um pouco antes, ou um pouco depois. Finalmente, na condição de alucinação verídica, John geralmente acerta a castanha antes que ela exploda por causa do calor e o faz enquanto Becky observa. Mas nesse cenário, Becky ingere acidentalmente uma planta alucinógena antes de entrar na oficina de John. As alucinações de Becky por acaso correspondem exatamente com o que ela teria visto se ela não estivesse alucinando… Após ler uma das quatro vinhetas, os participantes foram selecionados aleatoriamente para julgar o conhecimento de Becky, ou o seu entendimento.” (Wilkenfeld et al. 2018, pp. 32-5).
Wilkenfeld e seus colegas não encontraram diferenças significativas na avaliação dos participantes sobre o conhecimento de Becky e seu entendimento em qualquer das quatro condições.
[12] Os filósofos estão profundamente divididos em relação à conexão entre o entendimento e os fatos. Entre os oponentes da factividade estão Zagzebski (2001), Elgin (2007, 2009, 2017), e Riggs (2009). Em contraste, Lipton (2004, 2009), Grimm (2006, 2010), Pritchard (2009, 2010), Strevens (2013), Greco (2014), Hills (2016), Frigg e Nguyen (a ser publicado), Le Bihan (a ser publicado), e Nawar (a ser publicado) afirmam que o entendimento é factivo. Enquanto alguém pensar que o entendimento e redutível ao conhecimento, é preciso pensar que o entendimento é factivo. Se o entendimento não é factivo, então não pode ser reduzido ao conhecimento.
[13] Le Bihan (a ser publicado) faz uma observação semelhante.
____________________
Confira a segunda parte do artigo aqui.
obs: a bibliografia está publicada apenas na segunda parte do artigo